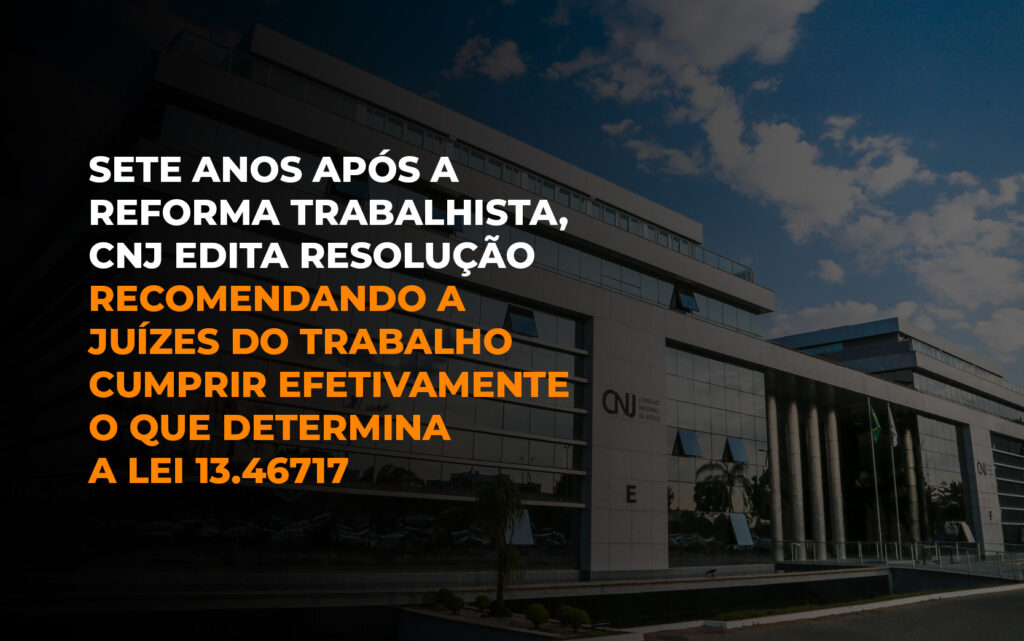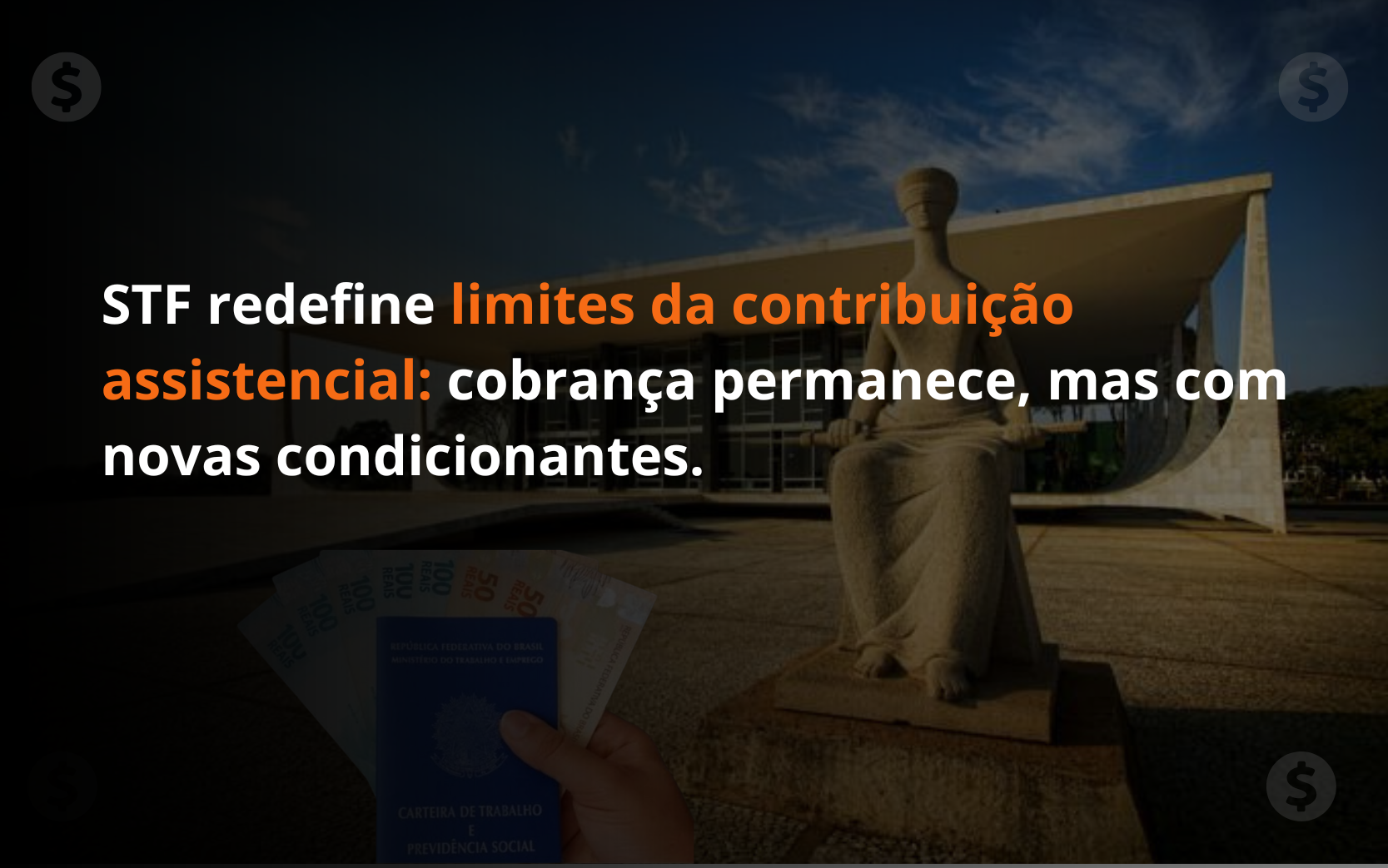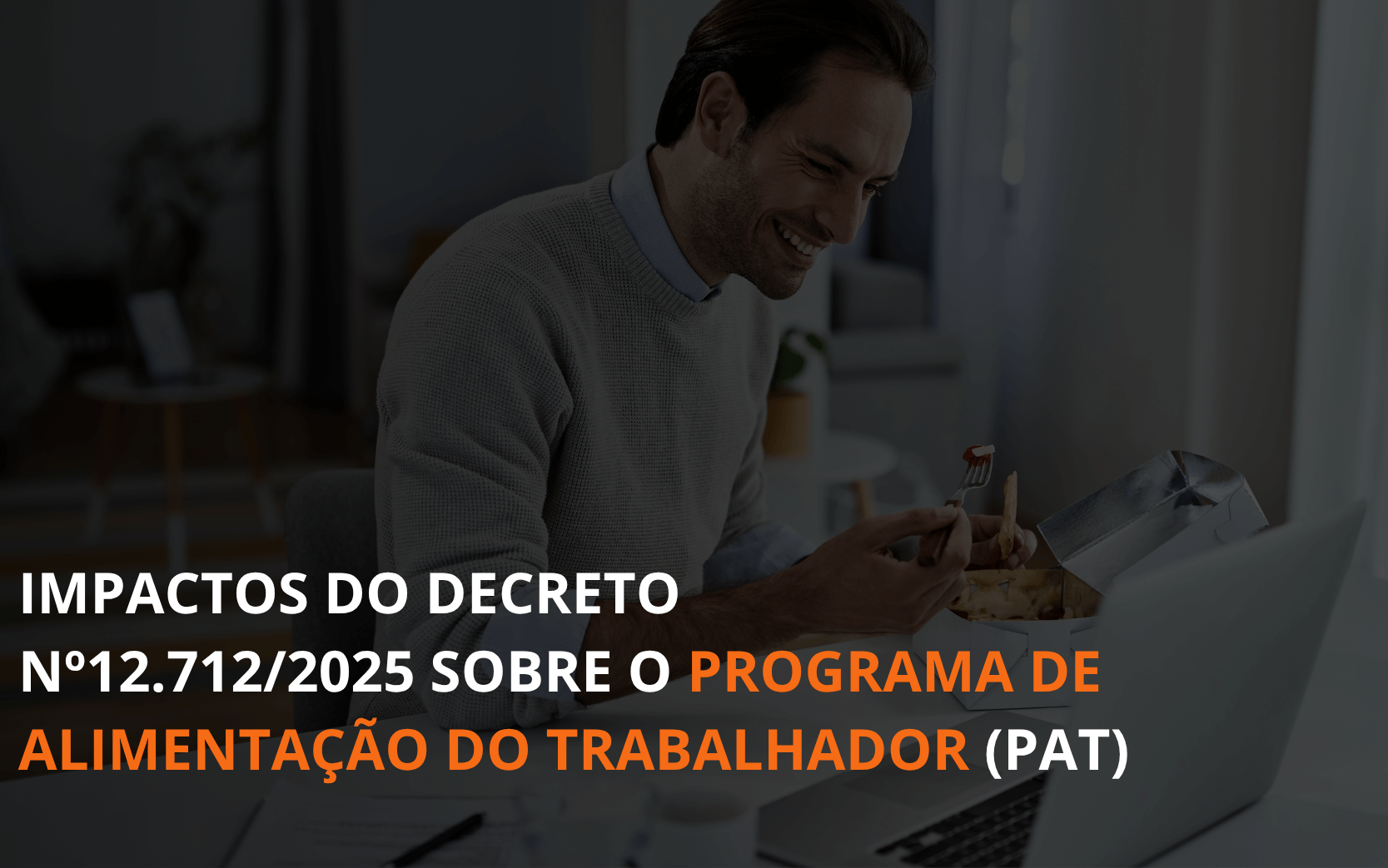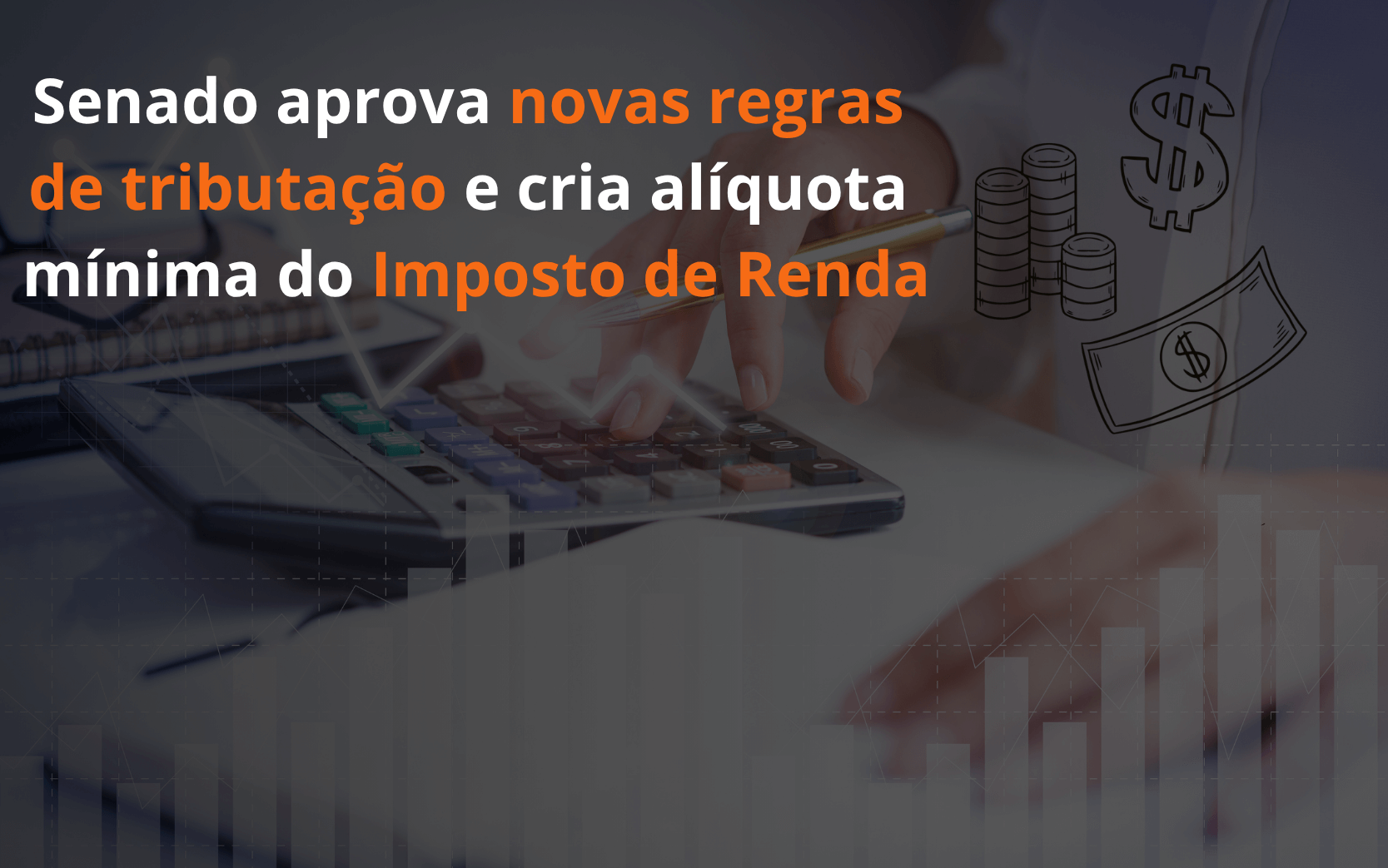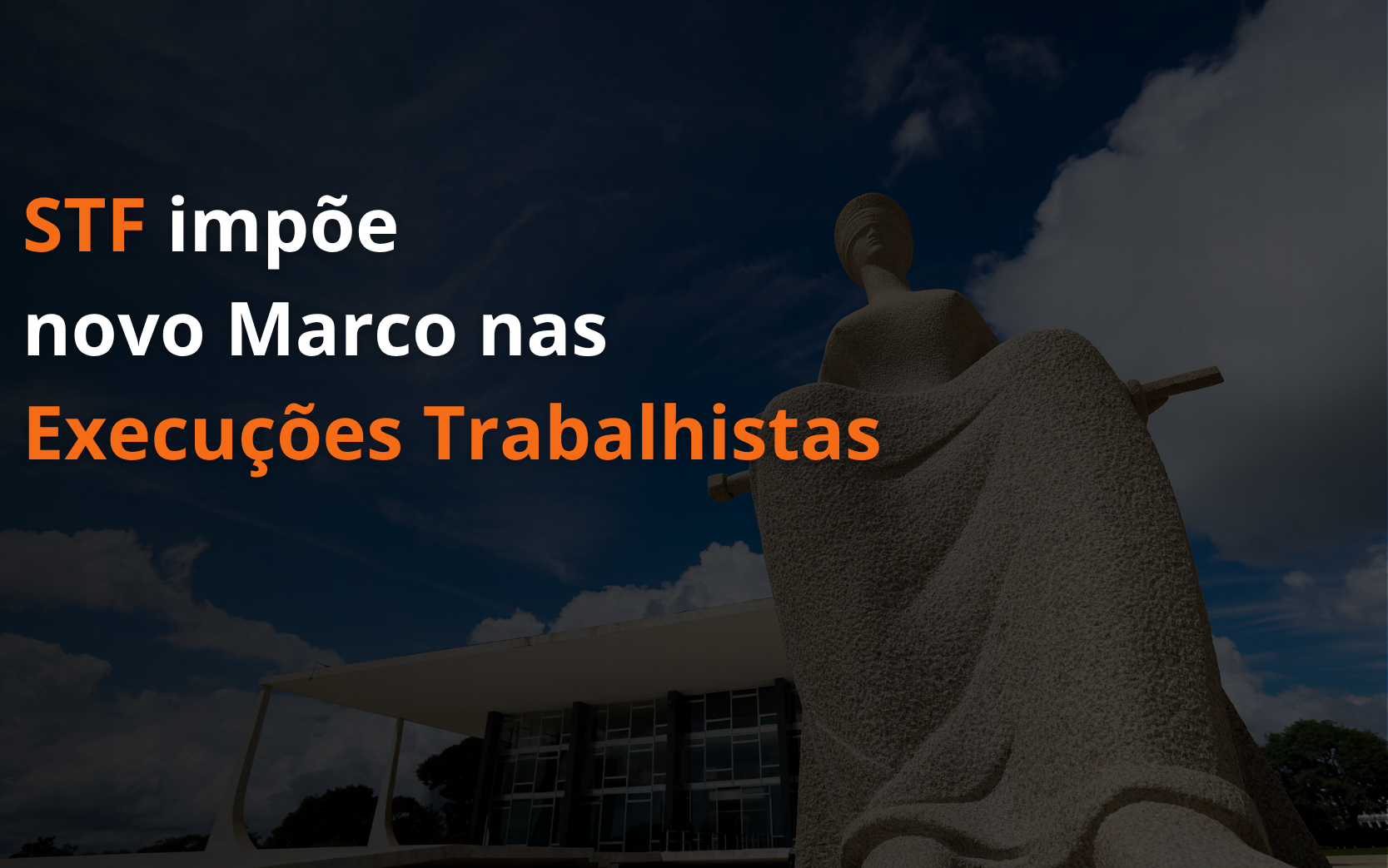Entre críticas e elogios, a chamada Reforma Trabalhista passou a vigorar em 2017, por meio da Lei 13.467/17. De todas as inovações, implementações e alterações trazidas pela lei, talvez a mais festejada tenha sido a criação da jurisdição voluntária.
O processo surgiu com a promessa de reduzir o número de reclamações trabalhistas, evitar a litigiosidade, trazer maior segurança jurídica a empregados e empregadores e acabar com a lide simulada – a famosa “casadinha”.
De 2017 a 2024, o capítulo III-A da CLT não sofreu alterações. Os artigos que regulam o processo de jurisdição voluntária passaram ilesos a várias ações que desafiaram a constitucionalidade dos novos artigos inseridos na CLT com a Reforma Trabalhista. Segundo o texto, para que os jurisdicionados pudessem se aproveitar da inovação legislativa bastava que:
• iniciassem o processo por petição conjunta; e
• estivessem representados por advogados distintos.
O que valia na época – e continua a valer, diga-se de passagem – são os requisitos de validade do negócio jurídico, como partes capazes, objeto lícito, forma prevista em lei, ausência de vícios de consentimento e uma boa dose de bom senso.
A pergunta então é, se absolutamente nada mudou no cenário legislativo que regula o instrumento, por que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) precisou, sete anos depois, editar a Resolução 586/24?
A resolução proposta pelo CNJ não é revolucionária como o instrumento que ela visa “regulamentar”. Não traz elementos diferentes daqueles previstos em lei para que a vontade das partes, traduzida na petição conjunta, possa valer.
O que não foi dito é que, ao longo de sete anos, persiste uma resistência injustificada do próprio Poder Judiciário em homologar os acordos extrajudiciais. O que se ouve pelos corredores das cortes é que o Judiciário não poderia ser um “mero órgão chancelador”.
A necessidade do CNJ editar uma resolução que simplesmente repete o texto legal revela que a desobediência em cumprir a lei, prática adotada por parte de juízes da Justiça do Trabalho, não deve persistir.
Foi preciso que um órgão externo à Justiça do Trabalho a socorresse dela mesma. Afinal, o pano de fundo para criação da resolução mencionada foi a necessidade de reduzir o número de reclamações trabalhistas no país, as quais, em grande parte, são oriundas da própria resistência da Justiça do Trabalho em tornar eficaz os métodos alternativos de conciliação trazidos pela Lei 13.467/17.
É por isso que a Resolução 586/24, apesar de não ser revolucionária, é um sopro de esperança para que esse valioso instituto não caia em desuso.
A experiência demonstra que a resistência de grande parte dos magistrados em homologar os acordos extrajudiciais com cláusulas de quitação integral da extinta relação jurídica que havia entre as partes decorre de uma absoluta insegurança desses magistrados sobre a licitude do ajuste apresentado para análise.
Não raras vezes são levantados questionamentos infundados sobre a licitude do ajuste. Diante da dúvida, o Judiciário simplesmente prefere não homologar.
A resolução do CNJ não altera essa percepção do magistrado que, na dúvida, prefere deixar de homologar o acordo, mas indica que, por disciplina judiciária, essa presunção de fraude não pode mais ser admitida.
A solução para esse problema tem sido munir o Poder Judiciário de informações que vão muito além da simplicidade prevista no artigo 855-B da CLT. Carteira de trabalho, termo de rescisão do contrato de trabalho, comprovante de pagamento de verbas rescisórias, extrato de FGTS e tantas outras informações que permitam ao magistrado se sentir mais seguro sobre a licitude da relação de emprego que está sendo objeto de ajuste entre as partes.